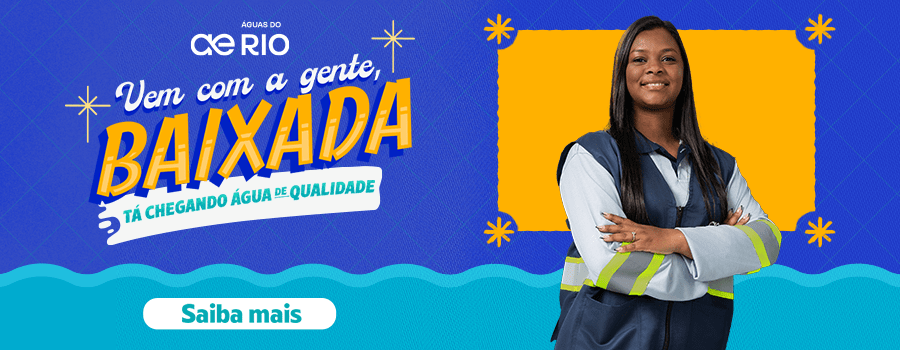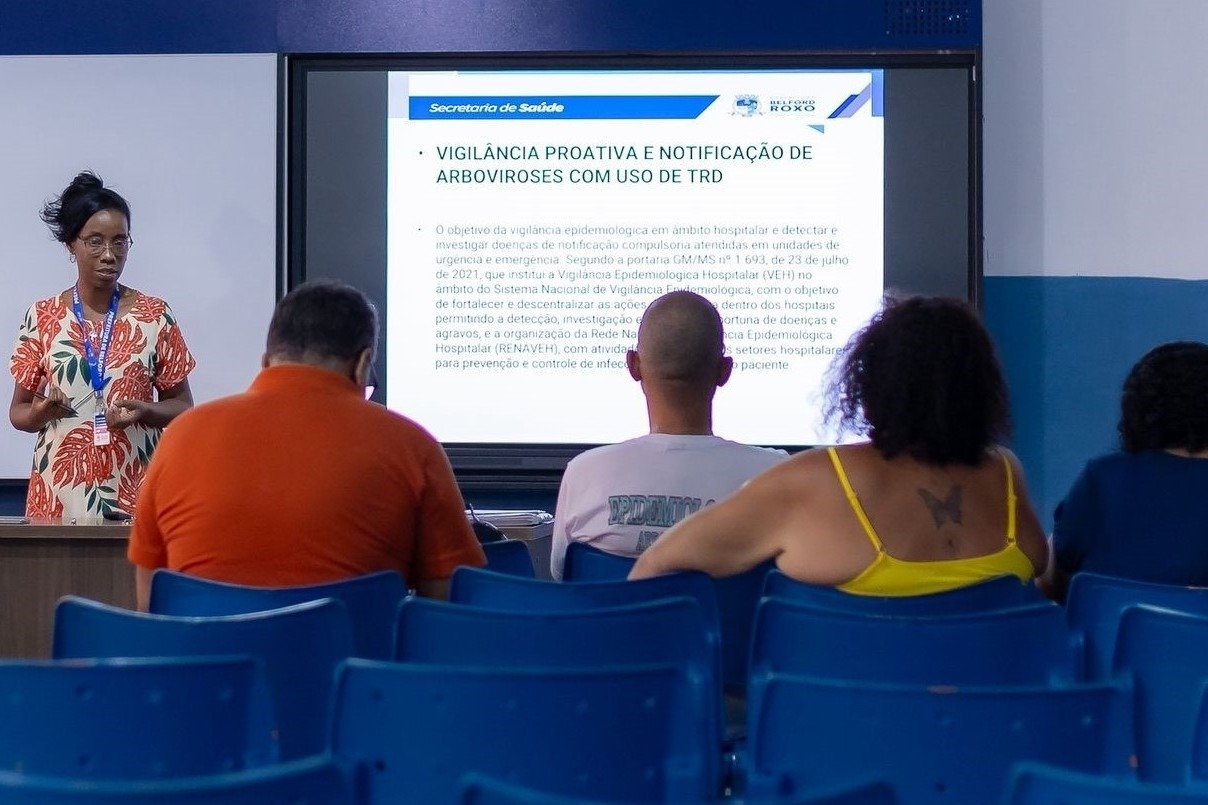O município de Belford Roxo localiza-se na Baixada Fluminense, integrando a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Sua história remonta ao período colonial. Antes da ocupação portuguesa, a região era habitada pelo povo indígena Jacutinga, do tronco tupinambá. Em 1666, um mapa elaborado pelo cartógrafo João Teixeira Albernaz II já identificava estas terras entre os rios Meriti, Sarapuí e Iguaçu. Os indígenas chamavam a região de “Ipuera”, que em tupi significa “o que foi água”, uma referência às áreas alagadiças e brejos resultantes do transbordamento dos rios. Os colonizadores portugueses, por sua vez, passaram a chamar a região de Brejo, justamente por seu terreno pantanoso e inundável.
Poucos anos após a expulsão dos franceses da baía de Guanabara, no final do século XVI, a Coroa Portuguesa distribuiu sesmarias na Baixada Fluminense. Por volta de 1594, o então governador do Rio de Janeiro, Cristóvão de Barros, concedeu uma sesmaria (lote colonial) ao capitão-mor Belchior de Azeredo, às margens do Rio Sarapuí, na aldeia dos Jacutingas. Nesse local fértil e rodeado de matas, Belchior fundou o Engenho de Santo Antônio de Jacutinga, com um engenho de açúcar e uma capela dedicada a Santo Antônio. Esse engenho tornou-se o núcleo inicial de povoamento da região que, séculos depois, daria origem a Belford Roxo.
Ao longo do século XVII e XVIII, as vastas terras originais foram sendo desmembradas em novas propriedades rurais. Do Engenho Santo Antônio de Jacutinga derivaram outros engenhos e fazendas vizinhas, como o Engenho do Maxambomba (núcleo de Nova Iguaçu) e o Engenho da Posse. Posteriormente, ainda no século XVIII, parte das terras gerou o Engenho do Brejo, assim chamado devido aos banhados no entorno, e também o Engenho do Sarapuí. Durante mais de 200 anos, extensas glebas da região permaneceram sob controle de uma mesma família tradicional: os herdeiros do governador Salvador de Sá e Benevides, conhecidos como família Correia Vasques. Nessa época, a economia local baseava-se na cultura da cana-de-açúcar, com grande contingente de mão de obra escravizada. O Rio Sarapuí servia de via de transporte: em 1720 já existia no rio um porto para escoar a produção agrícola (açúcar, aguardente, arroz, feijão, milho) das fazendas da região para a cidade do Rio de Janeiro. Devido às marés e enchentes, o Sarapuí frequentemente transbordava e alagava os arredores, formando manguezais e brejos, o que consolidou a alcunha de “Brejo” para aquela localidade.
No final do século XVIII e início do XIX, as antigas sesmarias trocaram de mãos entre membros da elite colonial. Em 1815, o então proprietário das terras do Brejo, padre Miguel Arcanjo Leitão, vendeu a fazenda para Felisberto Caldeira Brant, o 1º Visconde de Barbacena (posteriormente Marquês de Barbacena). Após seu falecimento, seu filho Pedro Caldeira Brant, Conde de Iguaçu, herdou a propriedade em 1843. Uma curiosidade notável é que a esposa de Pedro era Maria Isabel de Alcântara, a Condessa de Iguaçu, filha reconhecida do imperador Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. O casal chegou a residir no Engenho Santo Antônio de Jacutinga (hoje em ruínas no alto de uma colina, atrás da atual Uniabeu), que fica no território do atual Belford Roxo. Ou seja, a cidade guarda o legado de ter abrigado esta figura histórica ligada à família imperial.
Em 1851, a família Barbacena vendeu a fazenda para o comendador Manoel José Coelho da Rocha, influente proprietário que assumiu o Engenho do Brejo. Em meados do século XIX, a região enfrentou adversidades: o desmatamento e a agricultura extensiva causaram o assoreamento dos rios e a proliferação de áreas pantanosas, levando a surtos de febre palustre (malária) e outras doenças. Por volta de 1855, uma epidemia de cólera atingiu o Engenho do Brejo, dizimando escravos e moradores. A fazenda entrou em declínio; muitos senhores de engenho fugiram para áreas mais altas e saudáveis, abandonando propriedades. Esse contexto de crise contribuiu para a estagnação econômica local na segunda metade do século XIX.
A chegada da ferrovia e o “Milagre das Águas”
No final do século XIX, dois acontecimentos marcantes mudaram os rumos da região: a construção de uma ferrovia e um audacioso projeto de abastecimento de água para a capital. Em 1876 iniciaram-se as obras da Estrada de Ferro Rio d’Ouro, destinada originalmente a captar água em mananciais do Rio Iguaçu/Tinguá e transportá-la, por aquedutos, até a cidade do Rio de Janeiro. Os trilhos da Rio d’Ouro foram assentados cortando as terras do Brejo (com autorização e doação de faixas de terra pela família Coelho da Rocha) e em 1883 a ferrovia entrou em operação. Inicialmente, tratava-se de uma linha não aberta a passageiros regulares, pois sua finalidade principal era a manutenção de adutoras para captação de água nas serras de Tinguá e abastecimento da corte carioca. Mesmo assim, os moradores locais logo reivindicaram que a ferrovia passasse a aceitar passageiros, dada a carência de transportes na Baixada.
Com o tempo, uma pequena vila começou a se formar ao redor da Estação de Belford Roxo, a parada de trens estabelecida nas terras do Brejo. Por volta de 1880, instalou-se ali até uma caixa d’água para uso público (com chafariz), e a iluminação elétrica chegou antes mesmo de muitos locais vizinhos. Esses melhoramentos demonstram que a presença da ferrovia estimulou um núcleo urbano e certa infraestrutura, prenunciando o surgimento de um povoado permanente.

Em paralelo, a região seria palco de um famoso episódio histórico conhecido como “O Milagre das Águas”. No verão de 1888, uma das piores secas atingiu a Baixada Fluminense, afetando drasticamente o abastecimento hídrico inclusive na cidade do Rio de Janeiro. Diante da crise, o imperador Dom Pedro II cobrou urgência em soluções. Entre várias propostas, a que mais agradou foi apresentada pelo engenheiro Paulo de Frontin, então diretor da Companhia de Águas. Ele prometeu que em apenas seis dias seria capaz de captar 15 milhões de litros de água para restabelecer o suprimento da corte. Frontin mobilizou uma força-tarefa de trabalhadores e recursos, construindo em tempo recorde uma derivação emergencial a partir do Rio Iguaçu e das adutoras da Rio d’Ouro. Incrivelmente, ele cumpriu a promessa – ao sexto dia a água jorrava nos chafarizes do Rio – e o feito tornou-se lendário, apelidado pela imprensa de época de “milagre das águas”.
Um dos principais auxiliares de Paulo de Frontin nessa empreitada foi o engenheiro Raimundo Teixeira Belfort Roxo, maranhense de nascimento e servidor público de obras. Belfort Roxo teve participação destacada no projeto emergencial de 1888, porém faleceu tragicamente apenas um ano depois, em 1889. Em homenagem a esse ilustre engenheiro, o antigo povoado do Brejo, que até então também era conhecido por nomes como Santo Antônio de Jacutinga, Ipueras e Calhamaço Brejo, recebeu oficialmente o nome de Belford Roxo. Assim, o topônimo atual da cidade é um tributo a Raimundo Belfort Roxo e sua contribuição para solucionar a grande seca de 1888.
Uma curiosidade: mesmo após o “milagre das águas”, grande parte da água captada na região continuou a ser entubada e desviada para a capital, enquanto as populações locais da Baixada seguiam carecendo de abastecimento adequado. Até hoje, adutoras atravessam o território de Belford Roxo levando água para outros municípios, e muitos bairros locais ainda enfrentam problemas de fornecimento, um contraste histórico irônico observado pelos cronistas regionais.
O século XX e a Industrialização
Com o fim do ciclo do café no Vale do Paraíba e a expansão da malha ferroviária, a economia da Baixada Fluminense se transformou no início do século XX. As grandes propriedades agrícolas foram gradualmente loteadas e vendidas para novos moradores ou convertidas em sítios de cultivo de laranja, cultura que floresceu em municípios vizinhos como Nova Iguaçu nas primeiras décadas do século. A região de Belford Roxo se urbanizou lentamente, assumindo o perfil de “cidade-dormitório”, ou seja, um lugar onde a maioria das pessoas residia, mas trabalhava ou estudava na capital ou em cidades centrais próximas. A venda de lotes baratos atraiu muitas famílias trabalhadoras, inclusive funcionários da própria Estrada de Ferro Rio d’Ouro, que preferiam morar perto da linha férrea. Bairros como Heliópolis, Areia Branca, Parque Amorim, Nova Aurora e Coelho da Rocha (este último nomeado em memória da família de Manoel José) foram se consolidando ao longo do século XX.

Administrativamente, Belford Roxo permaneceu por décadas como parte do município de Nova Iguaçu. Em 15 de dezembro de 1938, foi criado o Distrito de Belford Roxo através de decreto estadual, subordinado a Nova Iguaçu. Nos anos 1940, houve um rearranjo territorial: uma porção do distrito de Belford Roxo foi desmembrada para compor o novo município de Duque de Caxias em 1943 (área da localidade de Imbariê). Mesmo assim, Belford Roxo continuou existindo enquanto distrito iguaçuano nas divisões territoriais de 1940, 1950, 1960 e 1980.
A partir da década de 1940-50, a região recebeu investimentos industriais que alteraram seu cenário socioeconômico. Um marco foi a instalação, em 1958, de um grande parque fabril da multinacional Bayer em Belford Roxo. A fábrica da Bayer, resultado de negociações pessoais do então presidente Juscelino Kubitschek com os diretores da empresa alemã, foi inaugurada com pompa, na presença de autoridades nacionais e estrangeiras. Tratava-se de um complexo químico de base, destinado à produção de corantes (anilinas), pesticidas (inseticidas e formicidas) e insumos para indústrias farmacêutica, de papel, couro etc. A chegada dessa indústria gerou empregos e colocou Belford Roxo no mapa da industrialização fluminense dos anos JK, figurando em revistas da época como um feito de importância nacional. Outras empresas também se instalaram no distrito ao longo do século XX, como a fábrica têxtil Dirce Industrial, a química Ingá e unidades da Souza Cruz, aproveitando terrenos mais baratos e proximidade com a cidade do Rio. Esse crescimento industrial atraiu novos contingentes populacionais e acelerou a urbanização.

No entanto, apesar da presença industrial, Belford Roxo continuou enfrentando graves carências em infraestrutura urbana, saneamento, saúde e educação. Nas décadas de 1970 e 1980, a localidade ganhou notoriedade negativa pela violência urbana e pelo abandono do poder público. Em 1978, uma reportagem da revista Veja chegou a propagar (de forma sensacionalista) que Belford Roxo seria “o lugar mais violento do mundo”, supostamente com base em um relatório da UNESCO – fato que depois se comprovou falso. Autoridades da UNESCO negaram ter realizado qualquer estudo desse tipo; tratava-se de um mito midiático, derivado talvez da fama dos “esquadrões da morte” que agiam na Baixada durante a ditadura militar. Ainda assim, o rótulo indevido contribuiu para estigmatizar a cidade por muitos anos.
Emancipação
A luta pela emancipação político-administrativa de Belford Roxo intensificou-se nos anos 1980, impulsionada pelo sentimento de abandono em relação à distante prefeitura de Nova Iguaçu. Lideranças locais organizaram movimentos pró-emancipação, reivindicando maior autonomia e recursos para enfrentar os problemas do distrito. Finalmente, em 3 de abril de 1990, foi aprovada a Lei Estadual nº 1.640 que desmembrou Belford Roxo de Nova Iguaçu, elevando-o à categoria de município. Contudo, a instalação oficial do município ocorreu apenas em 1º de janeiro de 1993, após eleições municipais realizadas em 1992. Nessa primeira eleição, foi escolhido como prefeito Jorge Júlio da Costa dos Santos, conhecido popularmente como “Joca”, um ex-vereador de Nova Iguaçu que liderara a frente emancipacionista.
Joca tomou posse como primeiro chefe do executivo municipal, porém seu mandato terminaria de forma trágica: dois anos e meio após assumir, em julho de 1996, ele foi assassinado em circunstâncias até hoje nebulosas, num crime que chocou a cidade. O episódio deixou marcas na jovem cidade e gerou diversas teorias conspiratórias a respeito dos mandantes, como abordado por historiadores recentes. Em 1996, a viúva de Joca, Maria Lúcia Santos, elegeu-se prefeita, dando continuidade ao grupo político do marido.

Desde a emancipação, Belford Roxo vivencia os desafios típicos de um município periférico de rápido crescimento. Sua população quase ultrapassa 500 mil habitantes (483 mil segundo o censo de 2022), fazendo da cidade a sexta mais populosa do estado do Rio de Janeiro. Problemas como saneamento precário, enchentes urbanas, violência e baixa renda média continuam presentes. Ao mesmo tempo, o município busca fortalecer sua identidade e infraestrutura. Projetos culturais e esportivos foram desenvolvidos para melhorar a qualidade de vida e revelar talentos locais. Nos últimos anos, Belford Roxo firmou-se como uma das cidades com menor índice de desenvolvimento humano da região metropolitana, o que impulsiona esforços governamentais por investimentos sociais.
Apesar das dificuldades, a cidade também coleciona feitos e aspectos positivos. Diversos artistas e atletas de renome emergiram de Belford Roxo nas últimas décadas , elevando o nome da cidade em nível nacional e internacional. Belford Roxo hoje é um município jovem (pouco mais de 30 anos de existência), mas de história antiga, carregando no nome e no território os traços da colonização, do desenvolvimento da Baixada Fluminense e da resistência de seu povo.
Fontes: Belford Roxo – IBGE (Histórico do Município); Revista Pilares da História (Artigo de Rubens de Almeida); Prefeitura de Belford Roxo – Histórico Municipal; Portal de Turismo RJ;
Anuncie no BRAVA!
Entre em contato pelo e-mail comercial@bravabaixada.com.br e peça um orçamento.